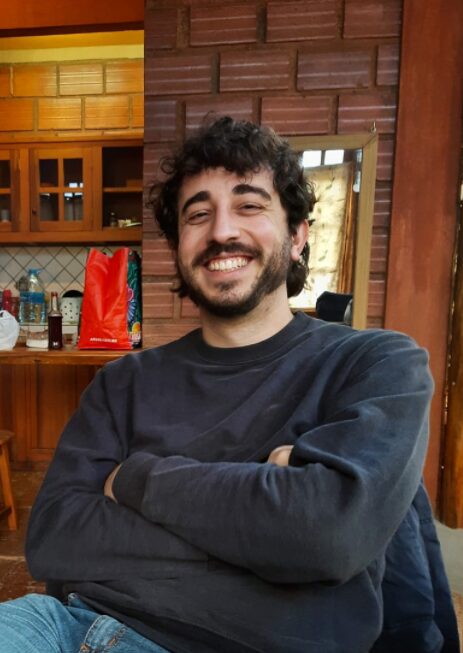Tecnologia
Como os ataques de 11 de setembro criaram uma distopia de vigilância nos EUA
Há 20 anos, o atentado de 11 de setembro abria a brecha perfeita para que os EUA passassem a vigiar os cidadãos. Impactos são sentidos até hoje.
Passada a onda de horror causada pela morte repentina de 2.977 cidadãos, o que restou aos EUA foi tentar assimilar o simbolismo por trás dos ataques de 11 de setembro de 2021 — 20 anos atrás. Os alvos dos aviões, as torres do World Trade Center, eram ícones da supremacia global estadunidense. A principal mensagem, no entanto, era outra: a segurança nacional dos EUA parecia ser mais frágil do que qualquer um poderia supor. Como, afinal, uma organização terrorista internacional enviou homens para o país e conseguiu tirar do papel um plano dessa magnitude?
“Investigações feitas por jornalistas e pelo Congresso dos EUA depois dos atentados mostraram que, se as agências de inteligência norte-americanas tivessem uma atuação mais efetiva e, principalmente, mais coordenada, o 11 de setembro seria evitável”, diz José Antonio Lima, professor de Geopolítica e Economia Internacional da Faculdade Cásper Líbero. “Vários terroristas que participaram daquele ato estavam na lista das agências. Então, houve um conjunto de falhas que permitiram um ataque desse tamanho”.
O 11 de setembro pedia uma resposta imediata. E isso mudaria para sempre a atuação das agências de inteligência e de órgãos de vigilância e controle nos EUA. Sob o argumento da manutenção da segurança nacional — e a eliminação de uma ameaça terrorista que, à época, ainda não se sabia ao certo o tamanho — a vigilância se tornou redobrada e impacta o mundo e a internet até hoje.
Nossa responsabilidade já está clara: responder a esses ataques e livrar o mundo do mal. […] Esta nação é pacífica, mas feroz quando enfurecida. O conflito começou no momento e da maneira que os outros queriam. E vai acabar do nosso jeito e na hora que escolhermos. ”
George W. Bush, em discurso feito em 14 de setembro de 2001
O problema é que integrar os sistemas de investigação e fazer nascer nova estratégia de combate ao terror às pressas não era das tarefas mais fáceis. “Agências de vigilância e serviços de inteligência foram construídos para monitorar sistemas de comunicação na era da Guerra Fria”, diz Christopher Parsons, pesquisador do Citizen Lab, da Universidade de Toronto, no Canadá. “Então, começa a haver a migração para plataformas de comunicação mais modernas — e essas agências não estavam nem um pouco preparadas”.
Após a dissolução da União Soviética, o investimento em programas de espionagem e vigilância acabou perdendo prestígio. A aparente queda de importância fez com que o setor perdesse relevância no orçamento, com repasses cada vez mais limitados pelo Congresso. Quando os EUA foram atacados, tudo isso mudou. “O que observamos, imediatamente após os ataques de 11 de setembro, é uma grande retomada de investimentos na NSA [Agência Nacional de Segurança, na sigla em inglês]”, diz Parsons.
Faltava, porém, dispositivos legais que dessem respaldo às novas funções das agências. O primeiro marco nesse sentido foi o Ato Patriota (Patriot Act, do inglês), muito discutido no Congresso estadunidense e defendido pelo ex-presidente George W. Bush, que passou a valer em outubro de 2001 — 45 dias após os atos de 11 de setembro. O que a medida fez foi aumentar penas para crimes de terrorismo, mas também expandiu a capacidade de vigilância das agências de inteligência e criou mecanismos para facilitar o intercâmbio de informações entre as agências.
O FISA (Foreign Intelligence Surveillance Act), de 1978, criado para justificar a vigilância de agentes estrangeiros quando o comunismo era a grande ameaça, também recebeu uma série de emendas dias após os atentados de 11 de setembro. Assim, uma sequência de legislações paralelas fez crescer o poder das agências de inteligência e deu gás aos programas de espionagem.
Vigilância por um bem maior?
O fato é que, com essa expansão, surgiu a possibilidade de que órgãos do governo, como a NSA, tivessem acesso a informações particulares de cidadãos. Entram nesse balaio ligações telefônicas, trocas de e-mails, mensagens de texto, coletas de dados sobre o histórico bancário e de crédito e a atividade de pessoas físicas na internet — que, à época, ainda dava seus primeiros passos.
Órgãos como a CIA, por exemplo, deixaram de apenas reunir informações e passaram a caçá-las diretamente da fonte. Para isso tudo dar certo, tornou-se aceitável vasculhar a vida de pessoas para conter ameaças terroristas em potencial. A troca parecia justa: ao abrir mão de sua privacidade, cidadãos estariam mais protegidos de futuros ataques terroristas. Bem, pelo menos era o que prometia o governo.
Essa busca, porém, patinou — sobretudo no início. Segundo aponta este relatório da União Americana pelas Liberdades Civis (ACLU), estima-se que, entre 2003 e 2006, 192,5 mil Cartas de Segurança Nacional (NSLs, da sigla em inglês) foram emitidas no país. Esses documentos davam ao FBI o poder de obrigar a divulgação de registros de clientes — sob o pretexto de investigar supostas ameaças terroristas. Apenas uma entre essas centenas de milhares de autorizações para investigação amparadas pelo Ato Patriota, no entanto, serviu para identificar uma atividade terrorista.
Essa proporção não melhorou muito nos anos seguintes. Em 2010, cerca de 1% das investigações do tipo estavam relacionadas ao terrorismo — 76% delas tinham a ver com drogas, um objetivo secundário. A NSA, porém, sempre bateu o pé para defender a importância desse acesso facilitado aos dados por parte de agências. Em 2013, o general Keith B. Alexander, chefe da NSA na época, afirmou que os programas de vigilância implementados desde 11 de setembro permitiram ao governo prevenir mais de 50 ataques terroristas. O fato é que, independentemente da eficácia, um volume imenso de dados — a maior parte, de cidadãos comuns — passou a se acumular sob a tutela de órgãos do governo.
Planos revelados
As provas de que os EUA formaram um complexo de inteligência que poderia ameaçar a liberdade dos cidadãos, ganharam o mundo apenas anos mais tarde. O principal escândalo foi trazido à público em 2013 por Edward Snowden, ex-agente da CIA que vazou informações sigilosas envolvendo projetos de segurança nacional dos Estados Unidos. As revelações detalhavam o funcionamento de programas de vigilância usados para a espionagem da população americana. Via servidores de empresas como Google, Apple e Facebook, o governo estadunidense estendia sua influência pelo mundo, monitorando conversas sigilosas de membros do governo de diversos países — incluindo o Brasil.
“O fato é que as revelações feitas pelo Snowden acabaram provocando uma onda de revisões sobre as práticas das agências de inteligência, não só nos Estados Unidos mas em outros países, principalmente da Europa”, explica Lima. Em 2015, durante o governo Obama, foi aprovada uma outra legislação que modificava várias previsões feitas no Ato Patriota, o USA Freedom Act, que acabaram reduzindo o poder das agências de vigilância.
Essa “pisada no freio” se refletiu no orçamento federal dedicado à inteligência. Se no final da década de 1990, eram investidos cerca de US$ 40 bilhões ao ano — volume que saltou para US$ 100 bilhões em 2010 — hoje, esse montante está na casa dos US$ 80 bilhões.
Em 2019, a NSA anunciou que encerraria a coleta em massa de registros de telefone e de conversas por texto. A agência citou “irregularidades técnicas” para explicar a decisão. O fato é que, além de invasivo, seu programa de espionagem de dados dos cidadãos simplesmente nunca funcionou bem o suficiente. Pelo menos, não a ponto de justificar os altos investimentos.
Essa saída de cena por parte da NSA não significa dizer que o governo americano abandonou sua veia para espionagem. Em julho deste ano, o FBI apareceu entre os órgãos de vigilância que se beneficiavam do spyware Pegasus, programa feito para espionagem de usuários, criado pela empresa israelense NSO Group. A lista de pessoas observadas incluía 189 jornalistas, mais de 600 políticos e oficiais de governo, 65 executivos e 85 ativistas de direitos humanos.
Qual o tamanho da ameaça terrorista hoje?
“Mesmo um analista do FBI teria dificuldade em responder essa pergunta”, comenta Lima. “O que é seguro dizer é que o fato de o Estado Islâmico ter perdido territórios que ocupava no Iraque e na Síria, depois do combate realizado contra vários países, acaba por dificultar o processo de doutrinação de pessoas em outros lugares, inclusive nos EUA”.
Ainda que novos ataques coordenados possam parecer improváveis, o combate ao terrorismo seguirá sendo um argumento para justificar a vigilância sociedade americana. E isso deve continuar assim pelo menos enquanto a memória dos ataques de 11 de setembro estiverem tão vívidas entre os cidadãos. Como apontou uma pesquisa do Pew Research Center divulgada no início de 2021, defender a sociedade contra o terrorismo está no top 4 da lista de prioridades entre os estadunidenses. De acordo com 63% dos entrevistados, o presidente e o Congresso precisam colocar a pauta à frente de qualquer outra demanda — como a recuperação da economia ou mesmo a pandemia do coronavírus, que aparecem como prioridade máxima para 80% e 78% da população, respectivamente.
O desafio, porém, é ouvir demandas de associações que analisam a privacidade no meio digital — e frear o apreço pela espionagem que agências do governo americano incorporaram ao longo dos últimos anos. “Não se deve pesar para nenhum dos lados, mas buscar o equilíbrio. É um debate que não tem fim. Vai haver sempre uma disputa entre a sociedade e as forças do Estado, a respeito de onde esse equilíbrio deve ficar”, diz Lima. “O que é fundamental é que a sociedade tenha alguma capacidade de supervisão sobre o trabalho das agências de inteligência”.